O nó górdio foi o caso Liberato Pinto, entretanto julgado e condenado em Conselho de Guerra por causa das suas actividades conspirativas. Juntamente com o Mundo, a Imprensa da Manhã, jornal sob a tutela de Liberato Pinto, atacavam diariamente o governo, tentando provar, através de documentos falsos, que o Governo projectava o cerco de Lisboa por forças do Exército, para desarmar a Guarda Nacional Republicana. No Diário de Lisboa apareceram, entretanto, algumas notas relativas ao futuro movimento. Em 18 de Agosto, um informador anónimo dizia da futura revolta: «Mot d’ordre: a revolução é a última. Depois, liquidar-se-ão várias pessoas».
O coronel Manuel Maria Coelho era o chefe da conjura. Acompanhavam-no, na Junta, Camilo de Oliveira e Cortês dos Santos, oficiais da G. N. R., e o capitão-de-fragata Procópio de Freitas. O republicanismo histórico do primeiro aliava-se às forças armadas, que seriam o pilar da revolução. Depois de uma primeira tentativa falhada, em que alguns dos seus chefes foram presos e libertos logo a seguir, o movimento de 19 de Outubro de 1921 desenrolou-se num dia apenas, entre a manhã e a noite. Três tiros de canhão disparados da Rotunda pela artilharia pesada da GNR tiveram a sua resposta no Vasco da Gama. Passavam à acção as duas grandes forças da revolta. A Guarda concentrou os seus elementos na Rotunda; o Arsenal foi ocupado pelos marinheiros sublevados, que não encontraram qualquer resistência; núcleos de civis armados percorreram a cidade em serviço de vigilância e propaganda. Os edifícios públicos, os centros de comunicações, os postos de comando oficiais caíram rapidamente em poder dos sublevados. Às 9, uma multidão de soldados, marinheiros e civis subiu a Avenida para saudar a Junta vitoriosa. Instalado num anexo do hospital militar de Campolide, o seu chefe, o coronel Manuel Maria Coelho, presidia àquela vitória sem luta.
Em face da incapacidade de resistir, às dez da manhã, António Granjo escreveu ao Presidente da República: «Nestes termos, o governo encontra-se sem meios de resistência e defesa em Lisboa. Deponho, por isso, nas mãos de V. Ex.a a sorte do Governo...» António José de Almeida respondeu-lhe, aceitando a demissão: «Julgo cumprir honradamente o meu dever de português e de republicano, declarando a V. Ex.a que, desde este momento, considero finda a missão do seu governo...» Recebida a resposta, António Granjo retirou-se para sua casa. Eram duas da tarde.
O PR recusou-se a ceder aos sublevados. Afiançou que preferiria demitir-se a indigitar um governo imposto pelas armas. Às onze da noite, ainda sem haver solução institucional, Agatão Lança avisou António José de Almeida que algo de grave se estava a passar. Perante tal, conforme descreveu depois o PR, «Corri ao telefone e investi o cidadão Manuel Maria Coelho na Presidência do Ministério, concedendo-lhe os poderes mais amplos e discricionários para que, sob a minha inteira responsabilidade, a ordem fosse, a todo o transe, mantida».
Passando a palavra a Raul Brandão (Vale de Josafat, págs. 106-107), «Depois veio a noite infame. Veio depois a noite e eu tenho a impressão nítida de que a mesma figura de ódio, o mesmo fantasma para o qual todos concorremos, passou nas ruas e apagou todos os candeeiros. Os seres medíocres desapareceram na treva, os bonifrates desapareceram, só ficaram bonecos monstruosos, com aspectos imprevistos de loucura e sonho...».
Sentindo as ameaças que se abatiam sobre ele, António Granjo buscou refúgio na casa de Cunha Leal. Cunha Leal tinha simpatias entre os revoltosos (tinha aliás sido sondado para ser um dos chefes do movimento, mas recusara) e Granjo considerou-se a salvo. Todavia, a denúncia de uma porteira guiou os seus perseguidores que tentaram entrar na casa de Cunha Leal para deter António Granjo. Cunha Leal impediu-os, mas a partir desse momento ficaram sem possibilidades de fuga porque, pouco a pouco, o cerco apertara-se e grupos armados vigiavam a casa. Apelos telefónicos junto de figuras próximas dos chefes da sublevação, que pudessem dar-lhes auxílio, não surtiram efeito.
Perto das nove da noite compareceu um oficial da marinha, conhecido de ambos, que afirmou que levaria Granjo para bordo do Vasco da Gama, um lugar seguro. Cunha Leal vacilou. Granjo mostrou-se disposto a partir. Cunha Leal acompanhou-o, exigindo ao oficial da marinha que desse a palavra de honra de que não seriam separados. Meteram-se na camioneta que afinal não os levaria ao refúgio do Vasco de Gama, mas ao centro da sublevação.
A camioneta chegou ao Terreiro do Paço onde os marinheiros e os soldados da Guarda apuparam e tentaram matar António Granjo. Cunha Leal conseguiu então salvá-lo. A camioneta entrou, por fim, no Arsenal e os dois políticos passaram ao pavilhão dos oficiais. Um grupo rodeou Cunha Leal e separou-o de Granjo, apesar dos seus protestos. Os seus brados levaram a que um dos sublevados disparasse sobre ele, atingindo-o três vezes, um dos tiros, gravemente, no pescoço. Foi conduzido ao posto médico do Arsenal.
Entretanto, vencida a débil resistência de alguns oficiais, marinheiros e soldados da GNR invadiram o quarto onde estava António Granjo e descarregaram as suas armas sobre ele. Caiu crivado. Um corneteiro da Guarda Nacional Republicana cravou-lhe um sabre no ventre. Depois, apoiando o pé no peito do assassinado, puxou a lâmina e gritou: «Venham ver de que cor é o sangue do porco!»
A camioneta continuou a sua marcha sangrenta, agora em busca de Carlos da Maia, o herói republicano do 5 de Outubro e ministro de Sidónio Pais. Carlos da Maia inicialmente não percebeu as intenções do grupo de marinheiros armados. Tinha de ir ao Arsenal por ordem da Junta Revolucionária. Na discussão que se seguiu só conseguiu o tempo necessário para se vestir. Então, o cabo Abel Olímpio, o Dente de Ouro, agarrou-o pelo braço e arrastou-o para a camioneta que se dirigiu ao Arsenal. Carlos da Maia apeou-se. Um gesto instintivo de defesa valeu-lhe uma coronhada brutal. Atordoado pelo golpe, vacilou, e um tiro na nuca acabou com a sua vida.
A camioneta, com o Dente de Ouro por chefe, prosseguiu na sua missão macabra. Era seguida por uma moto com sidecar, com repórteres do jornal Imprensa da Manhã. Bem informados como sempre, foram os próprios repórteres que denunciaram: «Rapazes, vocês por aí vão enganados… Se querem prender Machado Santos venham por aqui…». Acometido pela soldadesca, Machado Santos procurou impor a sua autoridade: «Esqueceis que sou vosso superior, que sou Almirante!». Dente de Ouro foi seco: «Acabemos com isto. Vamos». Machado Santos sentou-se junto do motorista, com Abel Olímpio, o Dente de Ouro, a seu lado. Na Avenida Almirante Reis, a camioneta imobiliza-se devido a avaria no motor. Dente de Ouro e os camaradas não perdem tempo. Abatem ali mesmo Machado Santos, o herói da Rotunda.
Não encontraram Pais Gomes, ministro da Marinha. Prenderam o seu secretário, o comandante Freitas da Silva, que caiu, crivado de balas, à porta do Arsenal. O velho coronel Botelho de Vasconcelos, um apoiante de Sidónio, foi igualmente fuzilado. Outros, como Barros Queirós, Cândido Sotomayor, Alfredo da Silva, Fausto Figueiredo, Tamagnini Barbosa, Pinto Bessa, etc., salvaram a vida por acaso.
Os assassinos foram marinheiros e soldados da Guarda. Estavam tão orgulhosos dos seus actos que pensaram publicar os seus nomes na Imprensa da Manhã, como executores de Machado Santos. Não o chegaram a fazer devido ao rápido movimento de horror que percorreu toda a sociedade portuguesa face àquele massacre monstruoso. Mas quem os mandou matar?
O horror daqueles dias deu lugar a uma explicação imediata, simples e porventura correcta: os assassínios de 19 de Outubro tinham sido a explosão das paixões criadas e acumuladas pelo regime. Determinados homens mataram; a propaganda revolucionária impeliu-os e a explosão da revolução permitiu-lhes matar. No enterro de António Granjo, Cunha Leal proclamou essa verdade: «O sangue correu pela inconsciência da turba—a fera que todos nós, e eu, açulámos, que anda solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos a culpa! É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama». No mesmo acto, afirmaria Jaime Cortesão: «Sim, diga-se a verdade toda. Os crimes, que se praticaram, não eram possíveis sem a dissolução moral a que chegou a sociedade portuguesa».
Com o tempo, os republicanos procuraram outras explicações. Não podiam aceitar a explicação simples que teria sido a sua acção, o radicalismo da sua política, a imundície que haviam lançado desde 1890 sobre toda a classe política, a sua retórica de panegírico aos atentados bombistas (desde que favoráveis), aos regicidas, a desencadear tanta monstruosidade. Significava acusarem-se a si próprios. Outras explicações foram aparecendo, sempre mais tortuosas, acerca dos eventuais culpados: conspiração monárquica; Cunha Leal (apesar de ter sido quase morto); Alfredo da Silva (apesar de, nessa noite, ter escapado à justa e tido que se refugiar em Espanha) uma conspiração monárquica e ibérica; a Maçonaria (a acção da Maçonaria sobre a Guarda, impelindo-a para a revolução, era constante, mas isso não significa que desse ordens para aqueles crimes)
Os assassinados na Noite Sangrenta não seriam, entre os republicanos, aqueles que mais hostilidade mereceriam dos monárquicos. Eram republicanos moderados. O furor dos assassinos liquidara homens tidos, na sua maior parte, como simpatizantes do sidonismo. Não se tratava de vingar Outubro de 1910, mas sim Dezembro de 1917. Carlos da Maia e Machado Santos foram ministros de Sidónio Pais. Botelho de Vasconcelos, coronel na Rotunda, às ordens de Sidónio Pais. Se as matanças de 19 de Outubro de 1921 foram uma vingança terão de ser referenciadas à República Nova e não ao 5 de Outubro. Aliás, num gesto significativo, os revolucionários libertaram o assassino de Sidónio Pais.
Há na Noite Sangrenta factos que se impõem de maneira evidente. A 20 de Outubro, a Imprensa da Manhãreivindicou para si a glória de ter preparado o movimento, mas repudiou as suas trágicas consequências, especialmente a morte de Granjo. Ora anteriormente, dia após dia, aquele diário havia acusado e ameaçado Granjo, injuriando-o sistematicamente. Como podia agora lavar as mãos da sua morte? Aliás, a atitude dos assassinos foi concludente: depois de matarem Machado Santos, dirigiram-se na camioneta da morte àImprensa da Manhã para lhe agradecerem o apoio e para aquela publicar os nomes dos que tinham fuzilado o Almirante. Um deles confessou mais tarde que Machado Santos havia sido localizado por informações de jornalistas da Imprensa da Manhã. Os assassinos procuravam a satisfação e a glória de uma obra realizada, no diário matutino onde se proclamara a necessidade dessa realização.
Os assassinos nunca esperaram ser castigados. Mesmo durante o julgamento sempre esperaram a absolvição. Quando foram condenados, entre gritos de vingança e de apoio à «República radical», alguns acusaram altos oficiais de não terem autoridade moral para os condenarem, pois estavam por detrás da carnificina. Os assassinos tinham, de certo modo, razão: eles tinham agido dentro da lógica que o republicanismo tinha instilado neles. Em todos os regimes que nascem e se sustentam no crime e no terror (por muito justa que a causa possa ser), há sempre o momento (ou os momentos) em que a revolução devora os próprios filhos.
Para terminar devo referir que nem Manuel Maria Coelho, nem nenhum dos «outubristas», conseguiu formar um governo estável. O horror fez todos os nomes sonantes recusarem fazer parte de um governo de assassinos. Menos de dois meses depois da revolução, António José de Almeida, em 16 de Dezembro de 1921, entregou a chefia do ministério a Cunha Leal.
A GNR foi pouco a pouco desmantelada e reduzida a uma força de policiamento rural.
A república ficara ferida de morte.
Nota - sobre este assunto ler igualmente:
A Seara Nova e o 19 de Outubro
Raul Proença e Jaime Cortesão sobre o 19 de Outubro de 1921
~
Fonte :http://semiramis.weblog.com.pt/arquivo/2004/10/19_de_outubro_d.html








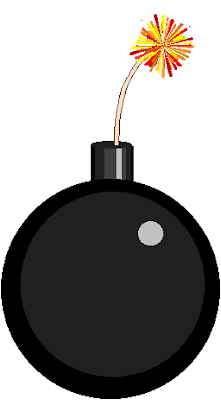


pano.jpg)








